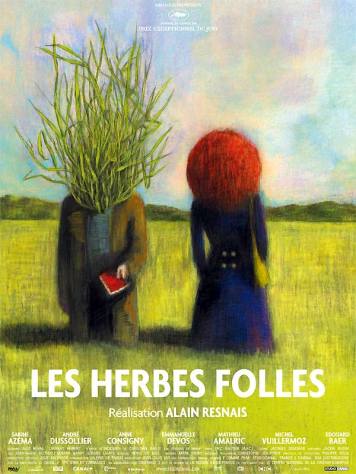Nunca fui muito talentoso para desenhar. Lembro que, uma vez, na aula de Artes, alguém pediu para que cada um fizesse o seu auto-retrato. A sala tinha um espelho imenso e todo mundo tinha o papel e o lápis de costas para ele, só para se olhar de frente e tentar reproduzir-se da forma mais fiel possível. Exceto eu: fiquei de costas pra tudo e fui tentado relembrar com a ponta dos dedos como era a forma do meu nariz, da minha boca, a caligrafia das orelhas. É claro, naquele ano, por pouco não fiquei as minhas férias todinhas fazendo algum trabalho manual para compensar o desenho terrivelmente distante do que eu representava para o espelho.

Talvez, o seja isto o que mais me tenha fascinado no álbum de Jay Jay Johanson.A idéia de um auto-retrato: da imagem, da representação que o artista faz de si mesmo; pela necessidade humana de acumular memória para além da sua própria cabeça. Não creio que existam auto-retratos que não sejam imagens. Tudo o que é escrito, narrado, é uma auto-biografia, tem um limite temporal, um recorte próprio e necessário. O auto-retrato não: é uma totalidade sem fim, feito a partir da idéia do ócio – do tempo vago em que se olha para si, para dentro – e se traduz, numa imagem, numa bricolagem, todo aquele speculum medieval, a necessidade de armazenar todo o tipo de referência, de assunto, de gesto, gerando uma cartografia afetiva de seu autor.
Ora, o auto-retrato é uma imagem. E Jay Jay Johanson o transforma num conjunto de sons. Acompanham letras: logo poderiam se tornar uma grande narrativa, que se inicia na primeira faixa e se estende por completo até a última. Mas não, tudo é fragmentado, momentâneo e próprio: o sujeito se repete, mas não continuamente. Self-Portrait, na verdade, é como uma colagem, cada uma das dez faixas se entende como um pedaço auto-retratado do cantor. Talvez, daí, as referências explícitas ao próprio corpo em relação ao ambiente afetivo, geralmente destruído, ao redor (broken nose, broken heart / the healing process doesn’t know where to start), da própria dificuldade de se reunir essas migalhas (there’s no smoke from chimney pot / and when the green light turns to red / there’s not a car that stops).
Mais que isso, as canções põe em questão a própria identidade de Jay Jay Johanson. A sua condição, até então andrógena, própria da sua fase e da música mais conhecida On the Radio (Antenna, 2002), posta em cheque por uma necessidade de frisar o objeto de desejo do eu-lírico como uma figura feminina (make her mine / make her mine / standing the line /make her mine). Ou então, a própria calmaria que se prevê em Self-portrait, resumida em Lighting Strikes: and when the lighting strikes / the thunder’s never away / and you’re the lightning strike / I’m thunder on a foggy day. A melancolia ainda é a mesma que se arrasta desde suas primeiras canções, mas agora é mais intensa: não incomoda, é parte da voz que, como o raio, cai tão perto, mas tão perto que nem percebemos.
As dez peças que compõem esse quebra-cabeça, em que o próprio eu-lírico é um enigma para si, não estão prontamente divididas e assimiladas. Não são imagens: não exigem que os olhos coloquem uma lógica visual e construam sempre uma imagem comum. É som, e por isso pede a cada ouvinte, a cada música, que recrie esse auto-retrato de acordo com a sua própria experiência, com suas memórias, com o próprio estado emocional. O jogo proposto pelo disco é, justamente, uma tensão entre a imagem retida e a imagem perdida: é um poética do esquecimento, em que cada faixa não deseja lembrar e abrir feridas – mas para falar das cicatrizes, de tudo o que ficou, do que é presente e palpável, mas que não representa com perfeita exatidão o passado. Ouvir Self-portrait não é recuperar, mas redescobrir, da forma mais íntima possível, o tempo.